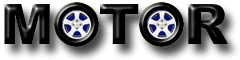  |
|
| Roteiros e viagens- | |
|
Expedição
Transamazônica
Uma vez que estávamos já há algum tempo na selva, foi fácil imaginarmo-nos numa cena de filme onde o mundo havia sucumbido em uma guerra, e nós sobrevivemos por estarmos isolados na selva. Um pouco mais adiante encontramos o Catarina chegando na vila. Demos uma carona para ele até sua casa, onde fomos recebidos como prometido, com um ótimo cafezinho, e aproveitamos para conhecer toda família.
Não pudemos ficar muito tempo pois tínhamos que rodar o que desse neste dia até encontrar um bom lugar para dormir. Anoiteceu e continuamos com o cuidado redobrado, subi para o teto do Toyota curtindo o ar puro da selva. A estrada era basicamente uma reta cortando a selva. De repente, no meio do nada avistamos um botequinho. Passamos reto e logo em seguida nos deparamos com uma pista de pouso, feita em cima da estrada. Ali pernoitaríamos. Armamos acampamento e fizemos comida. Eu e o Brik resolvemos voltar ao botequinho e conversar com o dono, chegamos meio ressabiados mas fomos bem atendidos. Tinha até cerveja! Destaque para o nome do boteco: Cachiblema (cachaça, chifre e problema). No outro dia voltamos lá e verificamos que algumas expedições de Venezuelanos, Alemães e Italianos deixaram suas marcas na parede. O dono do boteco nos contou que fazia mais de um ano que ninguém passava, só as poucas pessoas da região, deixamos também as nossas marcas e seguimos nosso destino. Agora a estrada estava assim: muito buraco, ponte quebrada, ponte podre, atoleiro e um pouquinho de asfalto e assim fomos. Notamos que de 50 em 50 km haviam torres imensas de telefonia celular e fomos visitar uma dessas subindo até o topo. Ali deu para perceber onde estávamos. Nos viramos em círculos e o visual era só floresta, uma imensidão até onde os olhos alcançavam. Nos sentimos pequenos como formigas e só esta experiência já valeu a viagem.
As pessoas sumiram. Rodamos mais de 400 km sem encontrar uma viva alma. Os atoleiros pioravam e as pontes agora para cruzar as ponte "rezávamos uma Ave Maria". A condições pioravam cada vez mais e o mato já tomava conta de toda a estrada. A média de velocidade diminuiu drásticamente para uns 15 ou 20 km/h. Depois de muito tempo encontramos um morador passando uma ponte grande e bem cuidada do rio Novo. Ao chegar achamos o lugar meio suspeito. Haviam dois casais, um cara de aproximadamente 40 anos e um gurizão deitados nas redes. No início ficamos desconfiados e alertas, depois concluimos que eram só alugação. Encomendamos um almoço às quatro horas da tarde, e a moça caprichou. No cardápio tinha peixinho, tomate da horta e carne de caça. O Fontana e o Ferrarini conseguiram pegar uns peixes. Milagre! Descobrimos que aquele morador (o gurizão) era contratado da Embratel para apoio das torres de telefonia e ali passavam temporadas, o outro rapaz mais velho era um andarilho, que depois de rodar a pé muitos anos pelo Brasil, veio de Porto Velho caminhando e nos contou que pernoitava em cima das pontes por ser mais seguro, protegendo-se de onças e de outros animais. Resolveu ficar por ali algum tempo trocando serviço por comida.
A situação era das mais complicadas, mas não chegava a assustar. Tínhamos agora que botar a mão da massa, quero dizer na balsa. Os palpites desordenados começaram: cada um tinha uma idéia. Teríamos antes de tudo que nos organizar. Depois de um bom tempo desistimos de erguer a rampa que estava emperrada. Teríamos que virá-la do outro lado para pode embarcar, é o que foi feito. Nesta operação usamos de todos os nossos recursos: aproximadamente 200 metros de cabos de aço, cordas, catarina, etc. Grita daqui e dali e a coisa começou a funcionar. Embarcamos o primeiro jipe com o Fontana dirigindo e eu coordenando os cabos na popa da balsa. Quando estávamos quase chegando do outro lado, uma das cordas arrebentou proporcionado uma cena de dar inveja ao Indiana Jones: a balsa pegou um embalo e foi de encontro à ponte. Como nos filmes, no último segundo jogaram-me a outra ponta da corda e dei rapidamente um nó; corri, me joguei na água e nadei o que pude para sair do alcance da ponte caso esta desabasse. Foi adrenalina pura. Depois de dado o nó a corda esticou e segurou a proa batendo na ponte só com popa. A ponte balançou, estralou e acabou caindo só uma viga lá de cima, ao lado da balsa. Quando olhamos o Fontana estava branco dentro do jipe, mas não abandonou o barco. Caso a balsa tivesse batido para valer a ponte poderia ter desabado e as consequências seriam sérias.
A balsa que estava ancorada com o guincho do jipe do Brick acabou puxando este para dentro do rio. Quando a balsa bateu, o jipe já estava com água na atura do parabrisa. Perdemos o dia todo para atravessar os nossos jipes e os 2 caminhões, que estavam do outro lado, cujos motoristas e ajudantes também nos ajudaram. Logo em seguida desaguou uma chuva daquelas, amenizando um pouco o calor. Comemos um bom peixinho no boteco do Sr. Altamir. Daqui para frente a estrada melhoraria até a cidade de Careiro, onde tivemos que pernoitar meio que na amarra, pois tinhamos planejado chegar em Manaus. Este foi um dos melhores dias da aventura e depois desta vimos que a turma está preparada para o que der e vier. No dia seguinte, por um bom asfalto seguimos até Manaus, antes a última balsa que sai do Rio Negro e passa pelo encontro das águas até o Rio Solimões, espetáculo à parte.
|
 Refizemos
o estoque de mantimentos e nos preparamos para partir rumo a Manaus
no sentido norte. Depois de 30 km deveríamos encontrar
o asfalto, até que começou a encrenca. Começamos a notar que a
estrada era um misto de um pouquinho de asfalto, trechos de terra,
buracos, atoleiros, pontes quebradas, pontes podres. A selva já
tomava conta da estrada em alguns pontos íamos com muita dificuldade.
Chegarmos em posto de gasolina abandonado onde parecia que havia
estourado uma guerra e as pessoas haviam saído às
pressas, deixando tudo para trás. Até os blocos de notas estavam
em cima do balcão, as bombas cobertas de mato ainda intactas,
na borracharia, tinha ainda o compressor de ar e algumas ferramentas.
Refizemos
o estoque de mantimentos e nos preparamos para partir rumo a Manaus
no sentido norte. Depois de 30 km deveríamos encontrar
o asfalto, até que começou a encrenca. Começamos a notar que a
estrada era um misto de um pouquinho de asfalto, trechos de terra,
buracos, atoleiros, pontes quebradas, pontes podres. A selva já
tomava conta da estrada em alguns pontos íamos com muita dificuldade.
Chegarmos em posto de gasolina abandonado onde parecia que havia
estourado uma guerra e as pessoas haviam saído às
pressas, deixando tudo para trás. Até os blocos de notas estavam
em cima do balcão, as bombas cobertas de mato ainda intactas,
na borracharia, tinha ainda o compressor de ar e algumas ferramentas.



 Aqui
nesta região havia mais rios e pontes do que na Transamazônica.
Muitas pontes estavam em péssimo estado e tivemos que arrumar
muitas delas. Umas balançavam, outras quebravam com o peso do
carro, até que o carro do Ferrarini quase despencou. Os pranxões
de madeira cederam e a traseira inteira caiu. Por pouco não caiu
de uma altura de quase 10 metros. O susto foi grande, mas nada
de grave aconteceu, e com os guinchos resolvemos fácil a situação.
Outro perigo eram os pregos saltados dos pranchas. Depois que
furamos dois pneus, passamos a atravessar a ponte a pé
batendo os pregos antes dos jipes passarem. Chegamos a conclusão
de que se realmente tivéssemos de construir uma ponte por inteiro,
não teríamos condições. Constatamos que a moto-serra tem que ser
grande o suficiente para cortar árvores com diâmetros
bem maiores; o cabo de aço precisa ser mais reforçado; e é
necessário muito mais combustível. Afinal, tudo o que tínhamos
não seria o suficiente, principalmente se fosse época das chuvas,
que já estava começando.
Aqui
nesta região havia mais rios e pontes do que na Transamazônica.
Muitas pontes estavam em péssimo estado e tivemos que arrumar
muitas delas. Umas balançavam, outras quebravam com o peso do
carro, até que o carro do Ferrarini quase despencou. Os pranxões
de madeira cederam e a traseira inteira caiu. Por pouco não caiu
de uma altura de quase 10 metros. O susto foi grande, mas nada
de grave aconteceu, e com os guinchos resolvemos fácil a situação.
Outro perigo eram os pregos saltados dos pranchas. Depois que
furamos dois pneus, passamos a atravessar a ponte a pé
batendo os pregos antes dos jipes passarem. Chegamos a conclusão
de que se realmente tivéssemos de construir uma ponte por inteiro,
não teríamos condições. Constatamos que a moto-serra tem que ser
grande o suficiente para cortar árvores com diâmetros
bem maiores; o cabo de aço precisa ser mais reforçado; e é
necessário muito mais combustível. Afinal, tudo o que tínhamos
não seria o suficiente, principalmente se fosse época das chuvas,
que já estava começando. Neste
mesmo dia partimos e rodamos à noite até uma 02:00 hs da
madrugada. Foi muito perigoso pois ficamos muito cançados
e nos arriscamos à toa. Os buracos e os atoleiros aumentaram,
até que nosso jipe caiu numa grande cratera e encalhamos feio.
Foi preciso 2 guinchos para resolver a situação. Estava chovendo
muito, portanto, a trilha estava alagada. Conseguimos chegar a
balsa do rio Igapóaçu e dormimos por lá mesmo. No dia seguinte
notamos que era uma vila de pescadores bem organizada. Era dia
de eleição, portanto, feriado. Tomamos um café no
botequinho de seu Raimundo e conversamos com os nativos. Descobrimos
que um barco estava carregado com mil quilos de peixe Tucunaré,
e como não havia gelo estavam distribuindo para a população e
alguns para os botos. Quando falaram em botos fomos ver se realmente
era o que estávamos pensando. Eram os botos cor-de-rosa, muito
dóceis, que vinham comer na mão. Os botos eram protegidos
pela comunidade. Foi incrível. Falaram também que se quiséssemos
ver o peixe boi teríamos que descer o rio por umas duas horas.
Infelizmente não foi possível.
Neste
mesmo dia partimos e rodamos à noite até uma 02:00 hs da
madrugada. Foi muito perigoso pois ficamos muito cançados
e nos arriscamos à toa. Os buracos e os atoleiros aumentaram,
até que nosso jipe caiu numa grande cratera e encalhamos feio.
Foi preciso 2 guinchos para resolver a situação. Estava chovendo
muito, portanto, a trilha estava alagada. Conseguimos chegar a
balsa do rio Igapóaçu e dormimos por lá mesmo. No dia seguinte
notamos que era uma vila de pescadores bem organizada. Era dia
de eleição, portanto, feriado. Tomamos um café no
botequinho de seu Raimundo e conversamos com os nativos. Descobrimos
que um barco estava carregado com mil quilos de peixe Tucunaré,
e como não havia gelo estavam distribuindo para a população e
alguns para os botos. Quando falaram em botos fomos ver se realmente
era o que estávamos pensando. Eram os botos cor-de-rosa, muito
dóceis, que vinham comer na mão. Os botos eram protegidos
pela comunidade. Foi incrível. Falaram também que se quiséssemos
ver o peixe boi teríamos que descer o rio por umas duas horas.
Infelizmente não foi possível.

 Passamos
a balsa e seguimos em frente, achando que à noite chegaríamos
em Manaus. Mais uma vez nos enganamos, a balsa do rio Tupuanã
estava toda quebrada e encalhada, encostada em uma enorme ponte
de madeira com uns 30 m de altura por 1,50 m de comprimento. O
último veículo que tentou passar há 3 anos atrás
desabou, quase matando o seu motorista. A ponte estava praticamente
caindo. Vou
contar um pouquinho dessa "doideira" que foi chegar
do outro lado do rio, pois normalmente você chegaria na barranca
do rio, buzinaria e a balsa viria, mas:
Passamos
a balsa e seguimos em frente, achando que à noite chegaríamos
em Manaus. Mais uma vez nos enganamos, a balsa do rio Tupuanã
estava toda quebrada e encalhada, encostada em uma enorme ponte
de madeira com uns 30 m de altura por 1,50 m de comprimento. O
último veículo que tentou passar há 3 anos atrás
desabou, quase matando o seu motorista. A ponte estava praticamente
caindo. Vou
contar um pouquinho dessa "doideira" que foi chegar
do outro lado do rio, pois normalmente você chegaria na barranca
do rio, buzinaria e a balsa viria, mas:

 Depois
de 26 dias sem nenhuma baixa, sãos e salvos, percorrendo a maior
floresta tropical do mundo, estávamos todos orgulhoso do feito.
Ao entrarmos em Manaus, levamos um susto que coisa mais estranha
esta tribo! Carros e mais carros, todos se vestindo meio igual,
habitando ocas uma em cima das outras, todo mundo meio doido!
De cara feia. Parecia que ninguém se conhecia, pois não se cumprimentavam,
apesar de morarem uns coladinhos aos outros. Mantinham as portas
bem fechadas com medo não sei de que. Só se for de outras tribos
rivais nas redondezas ou então porque chegamos e imaginaram sermos
invasores. Esta foi a nossa impressão ao reencontrar a "cidade
grande". Ficamos lá por mais 3 dias, mandamos os jipes por
cegonheiras (caminhões) que viriam buscar carros na fábrica
da Renault, em Curitiba. Pegamos
o avião com destino a nossa tribo, no sul, chamada Curitiba (Curi
= muitos, Tiba = pinheiros) na língua tupi-guarani, referência
a árvore Araucária que um dia já foi abundante em
nosso território.
Depois
de 26 dias sem nenhuma baixa, sãos e salvos, percorrendo a maior
floresta tropical do mundo, estávamos todos orgulhoso do feito.
Ao entrarmos em Manaus, levamos um susto que coisa mais estranha
esta tribo! Carros e mais carros, todos se vestindo meio igual,
habitando ocas uma em cima das outras, todo mundo meio doido!
De cara feia. Parecia que ninguém se conhecia, pois não se cumprimentavam,
apesar de morarem uns coladinhos aos outros. Mantinham as portas
bem fechadas com medo não sei de que. Só se for de outras tribos
rivais nas redondezas ou então porque chegamos e imaginaram sermos
invasores. Esta foi a nossa impressão ao reencontrar a "cidade
grande". Ficamos lá por mais 3 dias, mandamos os jipes por
cegonheiras (caminhões) que viriam buscar carros na fábrica
da Renault, em Curitiba. Pegamos
o avião com destino a nossa tribo, no sul, chamada Curitiba (Curi
= muitos, Tiba = pinheiros) na língua tupi-guarani, referência
a árvore Araucária que um dia já foi abundante em
nosso território.